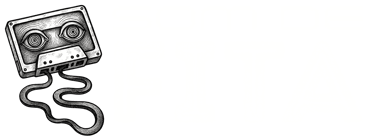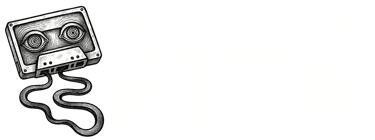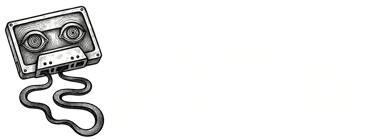EXPRESSÕES CULTURAIS que foram apropriadas e desvirtuadas pelo MARKETING ou pela ESTÉTICA
Quando símbolos ancestrais são transformados em produtos de consumo ou visuais descolados
Redação - SOM DE FITA
10/17/2025




A história da publicidade está repleta de momentos em que o fascínio pelo “exótico” levou grandes marcas a se apropriarem de expressões culturais, religiosas e artísticas de povos historicamente marginalizados. Esses elementos — que em seus contextos originais possuíam significados espirituais, identitários ou comunitários — foram descontextualizados e usados como meras ferramentas de venda.
A seguir, revisitamos sete casos emblemáticos e verídicos que ilustram como o marketing, ao tentar se aproximar da diversidade, frequentemente acaba distorcendo aquilo que busca representar.
1. Cocares indígenas: o símbolo sagrado transformado em fantasia de festival
Os cocares cerimoniais, conhecidos como war bonnets, são usados há séculos por povos indígenas das Grandes Planícies da América do Norte, como os Sioux, Cheyenne e Blackfoot. Eles simbolizam bravura, liderança e espiritualidade. Cada pena representa um ato de coragem, sendo conquistada, e não simplesmente usada.
A partir dos anos 2000, com a ascensão dos grandes festivais de música, esses cocares começaram a aparecer em desfiles e campanhas de moda. Marcas de fast fashion, editoriais de revistas e até artistas pop os utilizaram como adereço de estilo “boho” ou “espiritual”.
O caso se agravou em 2012, quando a marca Victoria’s Secret colocou uma modelo desfilando com um cocar indígena em um evento televisionado mundialmente. A repercussão foi imediata: representantes nativos denunciaram o gesto como desrespeitoso e ofensivo, levando a empresa a se desculpar publicamente.
Desde então, diversos festivais — como o Coachella — passaram a proibir o uso de cocares e trajes indígenas por pessoas não pertencentes às comunidades originárias, reconhecendo o peso simbólico e espiritual desses artefatos.
2. Cabelos afro: da resistência à mercantilização
Os penteados afrodescendentes — dreadlocks, tranças, cornrows e bantu knots — carregam histórias que remontam à África pré-colonial. Em muitas sociedades, o cabelo indicava linhagem, status social e espiritualidade. No período da escravidão, os penteados também serviam como forma de resistência e comunicação — há registros de tranças usadas para mapear rotas de fuga.
Durante o século XX, o cabelo afro se tornou um símbolo de orgulho e resistência negra, especialmente após o movimento dos Black Panthers e o lema “Black is Beautiful”. Contudo, a moda e o marketing começaram a se apropriar desses estilos sem reconhecer sua origem política.
Nos anos 2010, marcas ocidentais passaram a vender tranças e dreadlocks como “tendências” de beleza, muitas vezes usando modelos brancos. Isso gerou uma série de críticas, pois o mesmo estilo que era motivo de discriminação quando usado por pessoas negras passou a ser celebrado quando incorporado pela estética branca.
A apropriação de estilos afro mostra um padrão histórico: quando a cultura marginalizada é reproduzida sem crédito, ela perde seu poder simbólico e se transforma em produto descartável.
3. Gírias e expressões afro-americanas: a linguagem popular como vitrine publicitária
O inglês afro-americano (African American Vernacular English — AAVE) é uma das expressões linguísticas mais ricas dos Estados Unidos. Nascido da fusão entre dialetos africanos e o inglês imposto durante a escravidão, o AAVE produziu expressões que marcaram a cultura global, do jazz ao hip-hop.
Nos últimos anos, porém, a internet e o marketing digital transformaram gírias originadas na cultura negra — como “woke”, “lit”, “periodt” e “slay” — em ferramentas de engajamento corporativo. Marcas globais passaram a adotar esses termos em campanhas para se conectar com o público jovem, sem reconhecer suas origens.
Em 2020, por exemplo, várias empresas americanas usaram o termo “woke” em campanhas publicitárias pró-diversidade. O problema: a palavra, que surgiu nos anos 1940 dentro das comunidades negras como um chamado à consciência social (“stay woke”, ou “mantenha-se alerta”), foi reduzida a um jargão de marketing esvaziado de sentido político.
Essa apropriação linguística é um lembrete de que até a fala pode ser colonizada — e que o respeito às origens é essencial para não transformar a luta em slogan.
4. O esvaziamento do sagrado: yoga, mandalas e símbolos orientais no mercado ocidental
A globalização e o avanço da indústria do bem-estar transformaram práticas espirituais milenares em produtos de consumo. O yoga, por exemplo, nasceu na Índia há mais de 2.500 anos como filosofia espiritual e disciplina física ligada ao hinduísmo e ao budismo.
A partir dos anos 1960, com o movimento hippie e a contracultura, o yoga foi difundido no Ocidente, mas perdeu muito de sua essência espiritual. Hoje, é amplamente comercializado como uma forma de exercício físico, com roupas, acessórios e até bebidas “zen” vendidas sob o pretexto de equilíbrio e paz interior.
Símbolos sagrados como o Om (ॐ) e as imagens de Ganesha e Buda também se tornaram estampas em camisetas e produtos de decoração. Em muitos casos, essas representações são usadas em contextos completamente dissociados de sua função religiosa.
Essa banalização do sagrado é um exemplo de como o capitalismo transforma práticas espirituais em estética — retirando o conteúdo filosófico e substituindo-o por um ideal de consumo “espiritualizado”.



Foliões no Carnaval do Rio com fantasias que remetem a culturas indígenas norte-americanas | Foto: Reprodução

5. Tecidos e artesanato indígena: da identidade local à passarela de luxo
A apropriação de padrões têxteis e técnicas artesanais é um problema recorrente na indústria da moda. Povos indígenas e comunidades tradicionais, em países como México, Peru, Guatemala e Equador, têm denunciado o uso indevido de seus desenhos e bordados por marcas internacionais.
Em 2019, o governo mexicano acusou empresas como Carolina Herrera, Zara e Mango de usar padrões tradicionais das comunidades Oaxaca e Tenango de Doria sem autorização. Os desenhos, criados há gerações, foram reproduzidos em coleções de luxo sem crédito ou compensação financeira.
Casos como esse mostram como a moda global frequentemente transforma identidades locais em mercadoria. O que antes era um símbolo de pertencimento comunitário e tradição ancestral torna-se uma estampa impessoal, descolada de seu povo e de sua história.
Nos últimos anos, movimentos como o Fashion Revolution e o Slow Fashion têm pressionado a indústria por mais transparência, exigindo que o design contemporâneo respeite a autoria cultural e estabeleça parcerias justas com artesãos locais.
6. Perfumes e campanhas com estética indígena: o caso “Sauvage”, da Dior
Em 2019, a Dior lançou uma campanha global para o perfume “Sauvage”, estrelada por Johnny Depp, que gerou uma das maiores controvérsias recentes em publicidade. O vídeo mostrava o ator caminhando pelo deserto americano, enquanto um homem indígena realizava uma dança cerimonial.
A escolha estética e o próprio nome do perfume — que em francês significa “selvagem” — foram amplamente criticados por associarem culturas indígenas a estereótipos primitivos e romantizados. Diversas organizações nativas norte-americanas pediram a retirada da campanha, classificando-a como ofensiva e racista.
A Dior chegou a publicar uma nota dizendo que a intenção era “celebrar a beleza natural da Terra e dos povos indígenas”, mas a resposta não convenceu. O caso se tornou um marco negativo sobre como o marketing de luxo pode falhar ao tentar “homenagear” culturas sem compreender suas sensibilidades e contextos.
7. O bumerangue de luxo da Chanel: tradição ancestral como artigo decorativo
Em 2017, a grife francesa Chanel lançou um bumerangue de madeira e resina com o logotipo da marca, vendido por cerca de 1.500 dólares. O item, parte de uma linha esportiva, foi duramente criticado por transformar um símbolo cultural australiano em objeto de ostentação.
O bumerangue tem raízes profundas entre os povos aborígenes da Austrália. Originalmente usado para caça e cerimônias, é também um artefato espiritual e artístico. Para as comunidades indígenas, ver esse símbolo ser comercializado sem reconhecimento foi mais um episódio de exploração cultural.
A Chanel respondeu dizendo que o produto “não pretendia ofender”, mas o episódio reforçou como o luxo ocidental frequentemente se apropria de elementos culturais não ocidentais sem sensibilidade histórica ou ética.
Reflexões finais: entre o diálogo e o desrespeito
A fronteira entre inspiração e apropriação é tênue. É possível admirar uma cultura e até dialogar com ela por meio da arte e da moda — mas isso exige contexto, parceria e respeito. O problema começa quando o poder econômico de uma marca apaga as vozes de quem criou os símbolos originais.
O marketing ético precisa reconhecer que não existe neutralidade cultural. Cada cor, forma e símbolo carregam memórias coletivas e trajetórias de luta. Quando retirados de seu contexto e vendidos como “tendência”, eles deixam de ser expressão viva para se tornarem mercadoria vazia.
Ao contrário do que muitos pensam, o público atual valoriza autenticidade. Marcas que colaboram com comunidades, reconhecem suas origens e devolvem parte dos lucros para projetos locais não apenas evitam a apropriação, mas fortalecem narrativas de inclusão.
A apropriação cultural no marketing é, antes de tudo, um sintoma da desigualdade global. Transformar símbolos de resistência, fé e identidade em produtos de luxo é negar o poder que eles possuem. Mais do que nunca, é hora de transformar a estética em ética — e o consumo em consciência.
LEIA TAMBÉM:

Notícias, resenhas e cultura underground em destaque.
© 2025. Todos os direitos reservados.
Música, atitude e resistência em alta rotação.
Rebobinando o furdunço, Dando o play no Fuzuê.
Siga a gente nas redes sociais